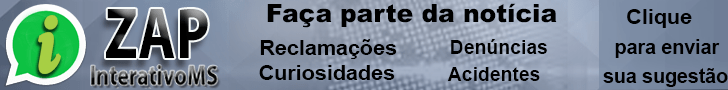JUNIOR TOMAZ DE SOUZA
A internet tem suas vantagens e suas ciladas, uma destas é criar em nós a ilusão de que estamos conectados às pessoas e informados em tempo real – e com neutralidade – sobre tudo o que está acontecendo no mundo. Em tempos de “sociedade do espetáculo”, a internet também insere nas nossas casas e nas nossas vidas um retrato perturbador da humanidade: o da barbárie, o da coisificação do ser humano.
Esta semana, depois de ler tantas coisas nas redes sociais, por um momento eu cheguei à conclusão de que nós realmente fracassamos enquanto civilização. Como bem queria o antropólogo Lévi-Strauss, “é preciso um pouco mais de respeito para o mundo, que começou sem o ser humano e vai terminar sem ele”. Acho mesmo que estamos caminhando para isto, com poucas esperanças de mudança no quadro. Nem o poder do conhecimento, como uma proposta que tiraria o homem da caverna em direção ao esclarecimento, parece ter garantido grande sucesso. Será que a arte, como queria Nietzsche, também pode nos salvar dessa verdade?
Acho mesmo que vamos fracassar, se já não fracassamos. Fracassamos na guerra contra as injustiças, as desigualdades, a corrupção, as mais diversas formas de intolerância com as diferenças; fracassamos na guerra contra a barbárie. É triste ver que nem mesmo a universidade, como espaço privilegiado de saber e transformação tem obtido sucesso em desfavor da barbárie; ora, a barbárie faz parte inclusive do currículo e das relações de poder da universidade. No Brasil, nem mesmo a USP, que se pretende hegemônica na construção de conhecimento neste país, consegue superar as opressões que pautam nos seus tradicionais programas de pesquisa; prova disso foi o “debate” que ocorreu sobre a questão racial na FEA no dia 16 de março.
Nossas universidades tendem a se tornar desacreditadas se não atenderem um ideal de ciência com consciência (como sugere Edgar Morin), de uma ciência com responsabilidade social, e se não forem capaz de ajudar a construir nas nossas escolas uma educação libertadora.
O comportamento pela barbárie é endossado, mesmo que de forma sutil, por quem ocupa um dos espaços tido como o mais privilegiado enquanto espaço de saber: a universidade. De igual modo, é decepcionante notar que a televisão trata de forma tão irresponsável a realidade dos mais pobres, dos mais humildes, dos marginalizados, das minorias, ou, nas palavras de Paulo Freire, dos “demitidos da vida”. É angustiante ver o tratamento dado ao problema da dor dos “demitidos da vida” de maneira tão debochada, insensível e irresponsável. Por vezes, somos levados a pensar que o que as pessoas comentam sobre a barbárie é ainda mais assustador; a barbárie em si não angustia tanto quanto a opinião de algumas pessoas sobre ela; como prova disto, basta lermos os comentários que aparecem em vídeos e notícias que retratam algo sobre os “demitidos da vida” nas redes sociais.
A opressão não deveria nunca ser assunto de piada. Entretanto, a guerra contra a banalização da dor alheia parece estar perdida. A guerra contra os meninos afeminados, as mulheres, os pretos, os pobres, as religiões de matriz africana, os idosos, as pessoas com deficiência, os nordestinos, os indígenas, os sem terra, as prostitutas, os homossexuais já tem um vencedor e não é os vitimados, mas aqueles que promovem e reproduzem a cultura do ódio. Essa é uma guerra travada pela hegemonia de religiões fundamentalistas, do fascismo, do poder econômico; uma guerra alimentada pelo culto ao corpo, à eterna juventude, à ostentação, ao espetáculo.
Para o filósofo e sociólogo Theodor W. Adorno, se há algo que a educação precisa ser é uma educação para a não barbárie, para a o nunca mais; ora, ouso pensar que tudo aquilo que a educação tem feito por milhares de pessoas no mundo é ser uma barbárie: seja pela violência e docilização dos corpos das crianças institucionalizadas e não adotar uma política educacional libertadora e emancipatória, seja pela não valorização do trabalho do professor como centro de todo o processo educativo.
Nem mesmo a vivência da opressão tem servido para tirar o oprimido de seu estado de passividade; as identidades oprimidas seguem fragmentadas. Não temos mais exemplos de adeptos da desobediência civil como Nelson Mandela, Mahatma Gandhi e Martin Luther King para inspirar jovens e oprimidos a libertarem-se das correntes que os prendem. Sempre digo que uma violência sofrida é capaz de produzir duas coisas em nós: ou ela nos embrutece ou ela nos adoece. Ambas podem ser ruins, mas quando ela nos embrutece pelo menos pode vir como reação, o que é positivo; entretanto, a violência tem provocado tamanha dor que o oprimido está mais resignado pelo adoecimento que indignado pelo embrutecimento. Mais grave que isso, a opressão vivenciada tem feito aos oprimidos reagirem na condição de opressores, o que até faz sentido – para nossa decepção – já que para Paulo Freire, quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é tomar o lugar do opressor.
Tudo aquilo que não conseguimos vencer ou explicar, tende a se naturalizar. Nesse sentido, nossa cultura parece caminhar para um lugar onde vamos assistir as mais diversas formas de opressão e nos mantermos ora como meros espectadores, ora como reprodutores, sem nos indignarmos, sem reagirmos.
Não pensamos e nem sentimos mais enquanto sociedade, de modo que ninguém assume a responsabilidade pelos prazeres ou pelas dores do Outro. Como fracassamos na possibilidade de “sermos felizes juntos”, as palestras de autoajuda começam a ganhar dinheiro com a mensagem de que é possível – e necessário – “ser feliz por si mesmo”. Soa muito poético – e até autoajuda – dizer que cada um tem potencial para construir sua própria felicidade, mas eu ousaria questionar em que modelo de civilização isso seria possível, já que todos nós temos como referencial uma matriz de vida coletiva; mesmo que um homem sozinho numa ilha tivesse que construir sua própria felicidade, ainda assim ele não faria isso sozinho, dependeria de todos os outros seres vivos da ilha que contribuiriam para sua sobrevivência, talvez até necessitaria dar vida a alguns objetos inanimados para se sentir menos sozinho, como o personagem do filme Náufrago, ao “batizar” uma bola de basquete a quem dera o nome de Wilson e com a qual conversava diariamente para se sentir menos solitário.
Tornamos enfadonho assumir a responsabilidade de fazer o Outro feliz ou de assumir a culpa por suas dores, suas misérias. A grande verdade – inconveniente, diga-se de passagem – é que quer assumamos ou não, somos responsáveis; o “contrato social da vida coletiva” nem sempre é negociável. Em sociedade tudo funciona em rede, como um efeito borboleta; não dá mesmo para controlar, talvez nem tenhamos que nos sentir culpados pelas dores do Outro, mas admitir a responsabilidade pela ação ou omissão já é um grande passo.
Talvez o leitor esteja me julgando um tanto conservador, apocalíptico, radical ou até equivocado, já que a história não apresenta dados fiéis de que o mundo antigo era um lugar melhor para se viver. Talvez esteja ainda me julgando bastante pessimista, justo eu que há algum tempo atrás acusava um amigo, admirador de Fernando Pessoa, de ter uma insuportável visão pessimista do mundo. Entretanto, se há um diagnóstico quase incontestável sobre nosso atual momento – o que os cientistas ambientalistas comungariam desse pressuposto – é o de que a humanidade está com os dias contados, se não mudar a perspectiva de seus valores.
Se como bem interpreta a cantora argentina Mercedes Sosa, “um só traidor tem mais poder que um povo”, ou como bem lembrava Cazuza, “nossos inimigos estão no poder” e estamos repetindo o passado como um museu de grandes novidades, acreditar na humanidade se tornou algo para utopistas e idealizadores, coisa que nós das ciências humanas e sociais até sabemos muito bem ser. Entretanto, se tudo isso não é o nosso pior, que não seja também nosso melhor, pois uma premissa dos utópicos e idealizadores é acreditar no bem, acreditar que podemos ser melhores. Aliás, imperativo é que melhoremos, não por uma questão moral, mas por uma questão de sobrevivência.
.
JÚNIOR TOMAZ DE SOUZA é psicólogo, formado em Direito, mestrando em Educação pela UEMS e servidor público na mesma instituição. Atualmente, é pesquisador de temas ligados aos direitos humanos, diversidade, violência e sexualidade. É diretor de projetos do Coletivo de Direitos Humanos e Diversidade Sexual Universitário do Município de Paranaíba (Diversas)